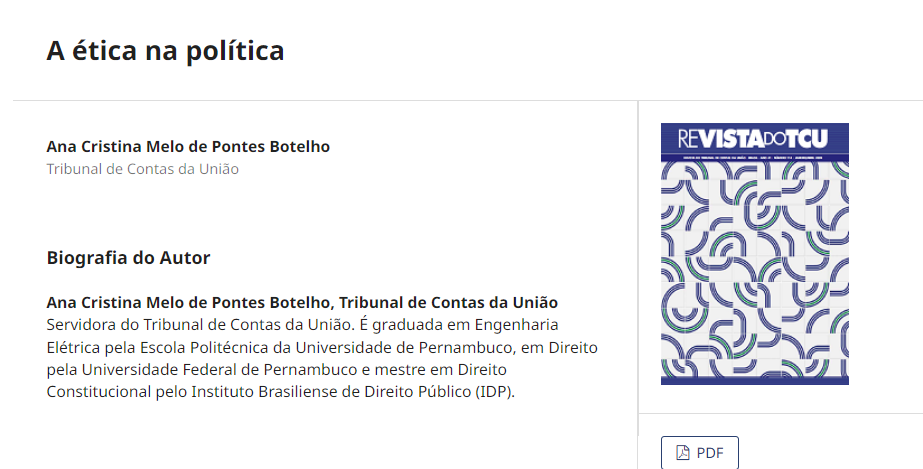Revista do TCU
Ana Cristina Melo de Pontes Botelho
2009–01–01
Ana Cristina Melo de Pontes Botelho é servidora do Tribunal de Contas da União. É graduada em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).
1.INTRODUÇÃO
Os escândalos sobre corrupção praticada nos altos escalões do governo são cada vez mais frequentes, reinando, com raras exceções, a impunidade, a despeito da existência no ordenamento jurídico pátrio de normas legais tidas como modernas, a exemplo da Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional.
Nesse sentido, o presente artigo tem por escopo central discutir sobre a existência ou não de um tipo de ética que mais se adéque à práxis da atividade política.
Questionaremos, outrossim, se a política pode ser exercida de forma dissociada da ética.
Na busca de respostas para as nossas indagações e inquietações, empreendemos estudos sobre as principais correntes de filosofia moral.
Questionaremos, outrossim, se a política pode ser exercida de forma dissociada da ética.
Como forma de melhor estruturar a nossa explanação, dividiremos o trabalho em cinco partes.
- Na primeira, faremos considerações sobre a política contra a ética.
- Na segunda, veremos questões sobre a ética política.
- Na terceira, abordaremos, de forma resumida, aquelas que são, a nosso ver, as principais teorias éticas, quais sejam: éticas do ser; éticas da consciência e éticas da linguagem.
- Na quarta, buscaremos respostas para as nossas indagações.
- Na quinta e última, concluiremos nosso trabalho.

2. A POLÍTICA CONTRA A ÉTICA
Pensamos que o que dá um grande impulso para a disseminação da corrupção instalada, em larga escala, no âmbito político, é justamente a imprópria e descabida dissociação que se faz entre a ética e a política. Hodiernamente, mesmo que de forma sorrateira, muitos ocupantes do Poder querem dissociar a ética da política. Assim o fazem para que os fins políticos desejados possam ser alcançados, razão pela qual as questões éticas são relegadas, postas numa espécie de segundo plano. Essa vertente separatista encontra respaldo em Maquiavel, que enfocou em sua teoria que há um campo da política que é distinto do da ética.
Interessante mencionar que o herdeiro político da Revolução Francesa, Imperador Napoleão I, em conversa mantida com Goethe, traçou uma analogia entre a tragédia antiga e a política moderna, tendo apontado a política como o lugar onde ocorre o confronto entre o homem moderno e o destino. De fato, a política, historicamente, tem definido as condições para que o controle da sociedade se faça mediante o poder. Nessa linha, Henrique Cláudio de Lima Vaz[1], em sua obra intitulada Ética e Direito, coloca que:
Dessa sorte, na sua significação mais genuína e tal como a interpretou o gênio de Napoleão, a política no mundo moderno é um fazer na ordem da causalidade eficiente que, como o antigo destino, age sobre a liberdade do alto de um céu misterioso: lá o capricho dos Deuses, aqui as razões do Poder.
Pensava o Imperador naquela época sobre as “Razões do Poder”, e modernamente, no Estado Brasileiro, temos visto que essas mesmas “Razões do Poder” são tomadas como parâmetro para justificar ações que permitam o exercício do poder. Destarte, para que este possa ser concretizado em sua plenitude, atingindo os fins colimados, a ética e o direito são marginalizados e desconsiderados, estabelecendo-se aí um constante clima de tensão entre o Direito, a ética e o poder.
A racionalidade política deveria permear o exercício do poder, no entanto, o que vemos é uma completa irracionalidade e um jogo político que leva à implantação em nosso País de uma perversa corrupção, de difícil controle, à medida que a permissividade do sistema político enseja que as práticas corruptas sejam tidas como normais, não devendo ensejar qualquer tipo de punição, vez que são justificadas como necessárias ao exercício do poder político.
Sob essa perspectiva, o problema vai se tornando cada vez mais grave e de difícil solução, vez que tende à generalização, atingindo as bases fundamentais do Estado Democrático de Direito. Destarte, na prática, a política dominante tem conseguido fazer valer a impunidade, em contraposição aos normativos jurídico-ético-legais. A teoria, então, muito difere da práxis procedimental, o que faz com que os desvios sejam cada vez mais acentuados. Em outras palavras, as “Razões do Poder” justificam os meios para que sejam atingidos os fins.

3. A ÉTICA NA POLÍTICA
Diante dos cada vez mais frequentes escândalos na política, sempre nos perguntamos sobre se haveria um tipo de ética que mais se adequaria à práxis da atividade política? Ou será que o exercício da política não é compatível com a ética?
As questões morais estão sempre presentes em nosso cotidiano e guiam as ações dos indivíduos, sejam elas direcionadas para o bem ou para o mal. Mas o que buscamos entender é se o exercício da política tem de afastar, necessariamente, valores morais. Não podemos perder de vista o fato de que o comportamento ético dos políticos não pode ser vislumbrado sob o prisma de um moralismo abstrato, que está restrito à esfera privada, mas relacionado com um moralismo real mais amplo, vez que está sempre a afetar a coletividade.
Importa esclarecer, ab initio, que o estudo da ética comporta distinções em relação ao estudo da moral, posto que esta diz respeito a um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual dos homens, ou seja, os princípios morais pressupõem regras de ações individuais materializadas em realidades históricas concretas. Já o estudo da ética é mais abrangente, pois busca entender o comportamento moral dos homens quando inseridos em sociedade, relacionando-se, portanto, intimamente, com a filosofia, vez que procura encontrar a fundamentação das questões que lhe são colocadas.
Mesmo diante dessas distinções, no presente artigo, empregaremos os termos “moral” e “ética” indistintamente. Explicamos o porquê: a palavra “ética”, procedente do grego, significa “morada”, “lugar em que vivemos”, só posteriormente passou a ter como significado “o caráter”, o “modo de ser”; a palavra “moral”, por sua vez, procedente do latim “mos” ou “moris”, que a princípio significava “costume”, passou a ter também o significado de “caráter” ou “modo de ser”. Nesse sentido, ética e moral têm significados etimológicos semelhantes, reportando-se a tudo aquilo que se refere ao modo de ser ou caráter resultantes da prática de hábitos bons. Por conseguinte, considerando que, cotidianamente, fala-se em atitude ética para designar atitudes moralmente corretas, não vale à pena, no presente contexto, diferenciar ou tentar impugnar um uso que já se faz tão difundido.
Em continuidade, a busca do entendimento sobre se a ética deve estar ou não presente na política leva a que nos reportemos de logo a Maquiavel, que inovou ao observar atentamente a política como um campo de estudo independente. Veremos que em sua obra “O Príncipe” a política não é mais pensada em termos de ética e de religião, o que provocou uma ruptura tanto com o pensamento dos clássicos greco-romanos, quanto com os valores cristãos da Idade Média. A política passou a ser vista com mais realismo e ceticismo em sua clássica obra, vez que o autor buscava demonstrar, em cada capítulo, para o Magnífico Lourenço de Médici como a política deveria ser exercida e como tirar proveito da fortuna, da virtù, da força militar no exercício do poder.
A partir de então, passou a política a ser vista como uma realidade totalmente objetiva, e que, portanto, teria que ter leis próprias consentâneas com o cotidiano dos indivíduos. Destarte, para se conseguir poder pleno, legítimo e duradouro, as situações práticas faziam com que os meios justificassem os fins, mesmo que desconsiderando por completo questões éticas concernentes ao exercício da política. A partir daí, Maquiavel torna pública e memorável sua célebre e polêmica frase: “Os fins justificam os meios”. Ações, as mais antiéticas possíveis, eram justificadas, contanto que o objetivo de manter-se no poder fosse alcançado.
A despeito das críticas a ele direcionadas, o que proporcionou que seu nome se tornasse adjetivo de coisa má (maquiavélico, maquiavelismo), o autor, a nosso ver, simplesmente retratou a realidade na política de sua época, buscando em todo momento orientar o seu príncipe sobre o que era bom ou mal para o exercício da política e para a manutenção no poder. Para ele, a ação humana vinculada à política segue um caminho e as normas morais seguem outro.
Mas é importante que se diga que, já na antiguidade grega, havia preocupações com questões concernentes à moral e à honestidade. Cícero, por exemplo, em sua obra De officiis, afirmava que havia uma honestidade intrínseca, sustentando que aquilo que se contradiz com a honestidade não poderia ser útil ao homem que busca viver em conformidade com a norma natural do bem. Maquiavel, contrariamente ao que afirmara Cícero, colocou, mais realisticamente, que a honestidade, em si, é um mito e que, muitas vezes, faz-se necessário se libertar dela para exercer ações que a moral ordinária reprova, com o fim de criar e manter condições de vida humana autêntica, fundamentada na liberdade e na certeza que só leis equitativas podem buscar[2].
Afastada da moral e reduzida à técnica de exercício de poder legítimo, a teoria maquiavélica vem sendo, ao longo dos anos, veementemente criticada e tida como um modelo imoral de prática do poder. Tomando como exemplo o caso do Brasil, infelizmente, a prática política vem desde os tempos do Império seguindo à risca esse modelo imoral teorizado por Maquiavel, tão criticado, mas seguido, mesmo que camufladamente. O que vemos hoje são escândalos e mais escândalos sem soluções jurídicas éticas e que dão margem, ante a impunidade reinante, ao cometimento de outras atrocidades éticas, tudo com a justificativa da manutenção e exercício do poder.
Em termos práticos, o escândalo do Mensalão coloca-nos a refletir sobre uns problemas que as afirmações maquiavelianas encerram em si, quais sejam: o que se pode e o que não se pode fazer para atingir determinado fim? Se se pensa que o fim é justo, tudo se justifica? No caso em comento, a finalidade buscada era a aprovação de projetos de leis e medidas provisórias do poder executivo federal, sem maiores questionamentos. O meio utilizado foi o pagamento de mensalidades (mensalão) para congressistas, a fim de conseguir a adesão necessária. A ética e o decoro parlamentar foram novamente relegados, como em tantas outras vezes. Isso demonstra que a realidade política em que estamos inseridos é bem mais complicada e antiética do que podemos imaginar.
Vivemos distantes daquela situação imaginada por Cícero de uma ordem natural do bem e da honestidade intrínseca do ser humano. Estamos, mesmo, mais próximos da realidade cruel retratada por Maquiavel, na qual o paraíso, o bem e a honestidade estão cada vez mais distantes de nós.
A falta de ética na política tem gerado uma corrupção desenfreada, o que incrementa a miséria, as mazelas e desigualdades sociais, contrariando a visão evolucionista de Marx, no sentido de que a humanidade marcharia sempre numa direção progressista. Às vezes pensamos que estamos regredindo, pois diante de tantas lições obtidas com a história da humanidade, uma vez que a questão da relação entre a moral e a política é um antigo problema colocado à reflexão moral (tão antigo quanto a origem das sociedades políticas), ainda nos deparamos com tantos desmandos e falta de ética numa atividade essencial para o Estado, e, por conseguinte, para toda a coletividade, que é a política.
A análise da política sempre nos leva, na realidade, a um debate entre fins e meios. Sendo legítimos os fins, pode-se fazer uso de quaisquer meios, mesmo que moralmente repreensíveis? Partindo do pressuposto de que a política é julgada pelos seus resultados, poder-se-ia, então, fugir de julgamentos morais?
Norberto Bobbio[3], em sua obra “Elogio da serenidade e outros escritos morais” ao falar sobre a solução dualística proposta, mesmo que não literalmente, por Maquiavel, segundo a qual “O fim justifica os meios”, colocou que o dualismo está baseado tanto nas ações finais, que têm valor intrínseco, quanto nas ações instrumentais, que têm valor enquanto servem para o atingimento de um fim determinado. Para ele não há teoria moral que não reconheça esse dualismo, referindo-se à distinção weberiana segundo a qual há ações racionais referidas a valor (wert-rational) e ações racionais referidas ao fim (zweck-rational).
O mesmo Bobbio, numa perspectiva do rigor moral kantiano, coloca que “em geral numa moral do dever, a consideração de um fim externo à ação não só é imprópria, mas também é impossível, porque a ação, para ser moral, não deve ter outro fim que o cumprimento do dever, que é precisamente o fim intrínseco à própria ação” Nessa linha de entendimento, vê-se que em Kant as ações ditas instrumentais têm de ser praticadas sob uma perspectiva do cumprimento do dever moral, mesmo que o fim desejado não seja alcançado.
Não vemos, no entanto, como dissociar fins e meios em termos de práxis política, vez que as ações meio, no mais das vezes, são praticadas sem o intuito de cumprimento do dever moral, mas sempre com o fito de consecução de um fim desejado no meio político, que pode ser escuso ou não. Numa pior situação, nem os meios nem os fins justificam-se.
Maquiavel enfatizou, numa passagem de Discursos: Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio[4], que “Quando é necessário deliberar sobre a saúde da pátria, não se deve deixar de agir por considerações de justiça ou injustiça, humanidade ou crueldade, glória ou ignomínia. Deve-se seguir o caminho que leva à salvação do Estado e à manutenção de sua liberdade, rejeitando-se tudo o mais”. Quis ele dizer com isso que “A salvação do estado é a lei suprema (salus rei publicae suprema lex)”.
Dessa maneira, a ação política deve ser vista, na ótica maquiavélica, em relação à necessidade de salvação da pátria, ou seja, objetiva um bem específico, e não sob o ponto de vista de critérios de julgamento pertencentes à moral comum. Kant, por sua vez, mesmo que em detrimento da coletividade, sustentou o cumprimento do dever com base em uma ação que possa ser considerada moral. Quem estaria com a razão?
Pensamos que, a despeito de a ação política demandar a pronta atuação no que diz respeito à salvação da pátria em perigo, à manutenção da grandeza da nação, enfim, à saúde da sociedade tal como preconizado por Maquiavel, ela não pode ficar afastada de uma ordem ética austera, tal qual a defendida por Kant. Mas, o problema que se põe é o de como conciliar o atingimento de fins essenciais à Nação com as práticas éticas desejáveis no exercício da política.
Cremos, firmemente, que mesmo com essas dificuldades, a política não pode ser autônoma com relação à ética, pois isso provoca uma constante instabilidade social e uma perversão dos valores morais, de forma que tudo pode ser feito e até os mais escabrosos casos de corrupção passam a serem vistos com certo ar de normalidade não só no meio político, como também pela própria coletividade que, em última análise, é a maior prejudicada pela corrupção política. Daí o dizer popular “Rouba, mas faz”.
Para ratificar o entendimento de que não há como desvincular a ética da política, Aristóteles deixou à humanidade uma lição no sentido de que o maior bem individual, que em sua opinião era a felicidade, só seria passível de ser alcançado em uma polis dotada de leis que fossem consideradas justas, e para que isso acontecesse os políticos, no exercício das atividades que lhes eram próprias, teriam de ser pessoas virtuosas, no sentido moral, agindo sempre com prudência na tomada de decisões[5].
Diante dessas considerações, acreditamos que o exercício da política não pode estar dissociado da ética. Aí nos reportamos à mesma indagação inicialmente colocada: haveria uma ética ideal que pudesse servir de parâmetro para a atuação política?

4. HÁ RESPOSTAS ÀS NOSSAS INDAGAÇÕES?
Os estudos sobre as principais teorias éticas desenvolvidas ao longo dos séculos, quais sejam: éticas do ser (teorias do bem e da perfeição), analisadas desde a antiguidade até o final do século XVIII; éticas da consciência (Teorias do sentimento moral, dos valores, do utilitarismo, do socialismo), que abrangem os séculos XVI, XVII e XVIII; éticas da linguagem (Método genealógico dos conceitos morais, éticas procedimentais, ética do discurso), dos séculos XIX, XX e XXI, dão-nos uma dimensão global daquilo que vem sendo compreendido como ética, dentro de uma concepção de filosofia moral, todavia não nos permitem dar respostas finais e acabadas sobre nossas indagações, muito embora nos façam ter maior discernimento na tentativa de dirimir indagações que cotidianamente nos são postas acerca do tema ética na política.
Na época atual, ainda procuramos, constantemente, aquele “bem-viver”, proposto por Aristóteles na antiguidade clássica, em que o homem, como animal político, busca viver num meio comunitário justo e igualitário para a consecução de uma vida boa e feliz, com autorrealização (ética eudemonista). Mas, na prática, para muitos, diferentemente do que se pensava na antiguidade, a busca da felicidade não precisa estar associada com a moralidade. É aí que nasce o problema da corrupção política, à medida que, em geral, todos querem tirar o máximo de proveito pessoal enquanto estão no exercício da atividade política, mesmo que em detrimento do próximo, o que nos distancia cada vez mais daquele meio justo e igualitário idealizado por esse memorável filósofo grego.
Assim, a começar pelas primeiras teorias éticas, antes de tentarmos responder às perguntas colocadas ao longo do texto, surge a seguinte indagação, a partir da teoria política de Aristóteles: será que podemos confiar que os agentes políticos são pessoas que possuem uma virtude intrínseca, por serem representantes legais do povo e por isso sempre agem com prudência e honestidade na tomada de decisões, não sendo necessários controles a eles direcionados?
Dos ensinamentos do Estagirita, vemos que, já naquela época, o filósofo expunha preocupações sobre a rotatividade dos cargos de agentes carcereiros, a conveniência da não acumulação de cargos e da renovação de mandatos, a não ser após longos intervalos, e mesmo assim só em alguns cargos. Depreende-se, então, que os inconvenientes da corrupção em geral, e mais especificamente da corrupção política, já eram vislumbrados de forma admirável naquela época.
Destarte, no sentido aristotélico, fica cada vez mais claro que não trazemos em nós, desde o nosso nascimento, a característica intrínseca da virtude, ou seja, esta não nos é um produto natural ou imanente, mas decorre da prática de toda uma educação moral e cívica. Em outras palavras, pelo concurso da ação, baseada na educação, na maturidade e no hábito, é a própria prática que nos torna homens virtuosos.
Diante disso, concluímos, em relação às teorias filosóficas do bem e da felicidade, que, em geral, o homem em toda a sua história tem buscado realmente a felicidade. Mas, no exercício do poder político, cremos que não poderíamos chamá-lo de altruísta, mas, por que não dizer, egoísta, pois o que se procura é o benefício próprio e daqueles que compartilham dos mesmos interesses políticos, no mais das vezes escusos.
Após essas elucubrações sobre a teoria Aristotélica, damos um salto para os estudos kantianos, que, apesar de criticados, contêm teorias que se mantêm vivas e aplicáveis, até hoje, aos problemas centrais da modernidade. Percebemos que também ele teoriza a busca da felicidade, mas ressaltando que para que a atinjamos havemos que ser dignos dela, isto é, a felicidade torna-se efeito do mérito. Quer-se atingir a boa vontade, ou a vontade boa que dá acesso à consciência do dever moral. A existência humana adquire, assim, uma finalidade moral. Mas essas finalidades morais não devem ser arbitrárias, mas categóricas, abrangendo, para isso, valores absolutos, não condicionais, não relativos a certos fins e desejos.
Mas o que vemos, na prática? As ações políticas vão, frequentemente, de encontro aos imperativos categóricos, à medida que os agentes políticos querem atingir o prazer e a felicidade independentemente da observância de regras éticas incondicionais e não suscetíveis das influências dos desejos individuais. Nessa linha, é ilusório esperarmos que ajam por convicções morais próprias, ou seja, tenham as leis morais relativas ao uso da coisa pública, como um imperativo categórico[6], tal como pensado na filosofia kantiana.
Kant, é importante que se diga, concordava com a concepção romana de que todos buscam a felicidade (Omnes homines beati esse volunt), mas para suportá-la teriam de estar convencidos de que realmente eram dignos dela, pois segundo ele o grande infortúnio que poderia advir para um homem era o menosprezo por si próprio. Nesse sentido, a felicidade obtida por meios escusos ou não condizentes com uma razão íntima seria, por assim dizer, uma falsa felicidade, pois estaria em desacordo com o nosso próprio eu. Dessa forma, mesmo sendo o ser humano imbuído de uma racionalidade ética, não se pode assegurar que a moralidade lhe seja uma característica intrínseca. Demanda-se, então, a produção de normativos acerca da ética dos agentes políticos, produção essa que deve ser feita com a maior austeridade possível, sendo, também, legitimada pela vontade da população, que, em última análise, é a mais prejudicada pela corrupção política. Mas isso só não basta. Há de se impedir (ou reduzir ao máximo) as interferências do poder político e econômico nessa produção normativa e também no processo de aplicação prática do direito positivado. Vislumbramos, dessa forma, que para que os imperativos possam ser válidos no cotidiano do ser humano, não podem estar apenas incluídos como uma abstração na mente dos indivíduos, mas têm que ser consubstanciados em normativos. Imperativos devem ser, portanto, vestidos por características formais próprias. Essa é uma das missões da filosofia moral (ética) e da ciência jurídica, ou seja, pensar quais imperativos mais se amoldam à práxis política, para serem juridicizados e aí não só proporcionarem uma reprovação intrínseca, mas, propriamente, uma reprovação jurídica pública de ações fora dos padrões de moralidade.
Diante de uma situação que poderíamos até chamar de uma corrupção endêmica, não podemos esperar que os agentes políticos reconheçam, conscientemente, como seres racionais, os comandos morais concernentes às suas atividades, sem que haja necessidade do estabelecimento de normativos próprios da ética e da intervenção de instâncias de controle. Daí a necessidade de empreenderem-se reflexões cada vez mais profundas sobre o problema da ética na política, já que podemos dizer que se trata de uma atividade nobre que requer representantes imbuídos não só de uma ética de convicções (Kant), própria de cada indivíduo, mas de uma ética da responsabilidade (Weber) totalmente voltada ao interesse público. Os comandos éticos relacionados com o trato da coisa pública têm de ser impostos e delineados de forma austera nas leis, sempre levando em consideração parâmetros imbuídos de uma ética da responsabilidade.
Já no decorrer da filosofia moderna, vimos que Descartes entendia que a condução ao imoralismo decorria da certeza de que há incompatibilidade entre moralidade e felicidade. A solução, então, seria remediar a inconstância dos espíritos fracos por intermédio da Lei, mesmo considerando que essas previsões legais pudessem suprimir as liberdades tão defendidas por ele.
Assim, diante da concepção preponderante no meio dos agentes políticos corruptos no sentido de que a felicidade tem de ser obtida a todo custo, mesmo que em detrimento da moralidade que se espera ver no decorrer de suas atuações como homens públicos, ratificamos que não há como fugir de leis de cunho ético, que tomam por base muitos dos estudos empreendidos na área da filosofia moral. Mesmo que essas leis venham atentar, de certa forma, contra a liberdade humana, tão defendida por Descartes[7] e por Kant[8], elas são extremamente necessárias, em especial no Brasil, onde os deveres morais a serem observados pelos homens públicos são comumente desconsiderados.
Com relação à ética utilitarista, será que podemos esperar que o ser humano, em particular o agente político, seja capaz de renunciar à sua própria felicidade em prol da felicidade dos outros, aí entendidos como a coletividade? Diante de tantos fatos históricos com o qual nos deparamos, cremos que essa renúncia e abnegação podem até acontecer, mas como fatos excepcionais.
A nosso ver, a regra é que poucos têm, verdadeiramente, a intenção de servir ao bem comum. Por isso, a noção de utilidade tão bem delineada pelos pensadores ingleses Benthan e Stuart Mill parece-nos ser utópica, numa sociedade em que, sabidamente, os grupos não são compostos pela soma das partes, pois têm interesses bastante divergentes. Em sendo assim, não vislumbramos como a noção de utilidade possa servir de medida de valoração para o comportamento humano, mais especificamente para o dos agentes políticos.
Com relação às éticas da era da linguagem, observamos que se trata de uma maneira bastante interessante de ver a moral, utilizando-se a linguagem como forma de justificação prática dos juízos de valoração moral. Estes têm de ser validados e justificados enquanto juízos morais, de forma que saibamos quais são verdadeiros e necessários, e em que sentido o são.
No sentido do agir político, os normativos éticos previamente estabelecidos num determinado ordenamento jurídico necessitam de uma motivação sempre voltada para o bem da coletividade. Nessa linha, para agir moralmente, os agentes políticos não devem vislumbrar interesses particulares, mas, sempre, públicos. Agindo contra estes, estarão agindo contra a ética, conduta esta digna de reprovação legal e social.
Mas o que vimos foi que ora considerando a ideia do bem, ora expressando a realidade objetiva, ora expressando a ideia de ordem, em geral, havia e há nos homens estudiosos da filosofia moral uma forte pretensão de que houvesse racionalidade e objetividade no trato dos valores. Os bens humanos buscados incluem primordialmente coisas que são boas pela sua própria natureza, ou seja, bens objetivamente bons, como a ausência de imoralidade ou, mais especificamente, moralidade administrativa, consubstanciada como princípio constitucional insculpido no art. 37, caput, da Carta Magna de 1988.
Como conciliar racionalidade, objetividade e moralidade? Pensamos que só por intermédio da feitura de normas condizentes com as realidades históricas e com as aspirações das populações diretamente interessadas. Normas, no sentido kantiano, mais imperativas e voltadas para o formalismo, racionalismo e rigorismo, mesmo que direcionadas para universos de menores dimensões que as imaginadas por Kant, bem assim as imbuídas de uma ética de responsabilidade, no sentido weberiano, seriam, no nosso sentir, um ponto referencial bem interessante.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos, assim, de ressaltar que não encontramos uma resposta pronta e acabada para a indagação feita no início do capítulo, sobre se haveria uma ética que mais se adequaria ao exercício da atividade política.
Mesmo cientes da complexidade das relações entre a ética e a política, não vislumbramos, tal como teorizado por Maquiavel, como a imagem da política pode estar dissociada da ética, pois esta tem que penetrar nos desdobramentos da política, dada a premente necessidade de sua estruturação ética.
Noutros termos, mesmo detentor de uma lógica própria, o poder político não pode se desvencilhar da ética.
Em se dissociando da ética, a política perde sua capacidade intrínseca de realização do bem da coletividade dentro dos padrões de moralidade exigidos.
Em se dissociando da ética, a política perde sua capacidade intrínseca de realização do bem da coletividade dentro dos padrões de moralidade exigidos.
Diante dos ensinamentos de Kant, que priorizam um agir moral intrínseco e válido para todos (imperativo categórico), e de Max Weber, que levam em consideração que na ética política devem ser ponderados os resultados das ações, de uma coisa temos certeza: a ética da conduta política não pode ser semelhante à ética de qualquer outra conduta.
No nosso sentir, mesmo diante do fato de a política ser uma ciência autônoma e detentora de uma lógica própria, a ligação entre a ética e a política não se pode romper, sob pena de se instalar um campo bastante fértil para a inobservância de princípios básicos do Estado Democrático de Direito, com destaque para o princípio da moralidade.
No nosso sentir, mesmo diante do fato de a política ser uma ciência autônoma e detentora de uma lógica própria, a ligação entre a ética e a política não se pode romper, sob pena de se instalar um campo bastante fértil para a inobservância de princípios básicos do Estado Democrático de Direito, com destaque para o princípio da moralidade.
Quanto à relação entre o direito, a política e a ética, muito embora reconheçamos a autonomia das questões jurídicas no campo do direito, das questões políticas no campo da política e das questões éticas no campo da ética, entendemos que essa autonomia não implica a dissociação entre o direito e a ética, tampouco entre o direito e a política.
Nesse contexto, os normativos jurídicos devem fazer uma interface entre política e ética, harmonizando-as, permitindo aos julgadores punir de forma austera, aqueles que ameaçam a moralidade e não abrindo espaços para a impunidade, que funciona como um incentivo para a prática de atos corruptos das mais diversas espécies.
Realisticamente, o que vemos é que a construção eficaz do tão falado Estado Social Democrático de Direito, no qual o princípio da moralidade deveria se realizar amplamente, fica cada vez mais prejudicada, pois os desvirtuamentos ocorrem sem que haja a efetivação prática das medidas punitivas cabíveis para os políticos corruptos.
Realisticamente, o que vemos é que a construção eficaz do tão falado Estado Social Democrático de Direito, no qual o princípio da moralidade deveria se realizar amplamente, fica cada vez mais prejudicada, pois os desvirtuamentos ocorrem sem que haja a efetivação prática das medidas punitivas cabíveis para os políticos corruptos.
Assim, considerando que a democracia[9] pressupõe a participação de todos, não apenas no processo de escolha dos governantes, mas nos fatos sociais que afetam a coletividade administrada;
… considerando que sempre devemos nos perguntar quais são os principais desafios éticos com os quais nos defrontamos no combate e prevenção da corrupção;
… considerando que os escândalos sobre corrupção produzem um profundo mal-estar no seio da nossa sociedade, o que faz com que reapareçam antigas preocupações éticas;
… considerando que o exercício da política deve ser compatível com a ética;
… considerando que não há uma ética ideal ao exercício da atividade política;
surge nova indagação: não seria a associação das éticas da convicção (Kant), da responsabilidade (Weber) e do discurso (Habermas) um caminho a seguir para o alcance de soluções normativas mais efetivas?
surge nova indagação: não seria a associação das éticas da convicção (Kant), da responsabilidade (Weber) e do discurso (Habermas) um caminho a seguir para o alcance de soluções normativas mais efetivas?

Referências
AIETA, Vânia Siciliano. Ética na política. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006.
ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.
BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. São Paulo: UNESP, 2002.
CANTO-SPERBER, Monique; OGIEN, Ruwen. Que devo fazer? A filosofia moral. São Leopoldo: Unisinos, 2004.
______ (Org.). Dicionário de ética e filosofia moral. São Leopoldo: Unisinos, 2003.
CORTINA, Adela; MARTINEZ, Emílio. Ética. São Paulo: Loyola, 2005.
DENNY, Ercílio A. Ética e política. Piracicaba, 1999.
DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2007.
DIAZ, Elias. Etica contra política: los intelectuales y el poder. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. São Paulo: Martin Claret, 2006.
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Tradução de Antonio Caruccio-Caporale. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2007.
PERELMAN, Chaïm, Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
RIBEIRO, Renato Janine. A ética na política. São Paulo: Lazuli, 2006. (Coleção idéias à mão)
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Ética e Direito. Organização e introdução de Cláudia Toledo e Luiz Moreira. São Paulo: Loyola, 2002.
ZILVETI, Fernando Aurélio; LOPES, Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção política. São Paulo: Atlas, 2004.
Notas
1 VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Ética e Direito. São Paulo:Edições Loyola. 2002, p. 177.
2 Dicionário de Ética e Filosofia Moral. [Org.] Monique CantoSperber. Editora Unisinos.
3 BOBBIO, Norberto. Elogio da Serenidade e outros escritos morais. São Paulo: Editora UNESP, 2002.
4 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos: Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. 4. ed. Editora Universidade de Brasília, 1994.
5 Dicionário de Ética e Filosofia Moral. [Org.] Monique CantoSperber. Editora Unisinos.
6 Kant fundamenta os princípios gerais da ação humana na razão prática, enunciada nos seguintes termos: “Age de maneira tal que a máxima de tua ação sempre possa valer como princípio de uma lei universal.” O argumento filosófico delineado ficou conhecido como imperativo categórico e, segundo ele, a nossa ação deve ser universal, ou seja, válida para todos.
7 “[…] E eu punha entre os excessos, particularmente, todas as promessas pelas quais se suprime algo da própria liberdade. Não que eu desaprovasse as leis que, para remediar a inconstância dos espíritos fracos, permitem, quando se tem um bom propósito ou mesmo, para a segurança do comércio, um propósito que é apenas indiferente, fazerem-se votos ou contratos que obrigam a perseverar neles; mas porque eu não via no mundo nada que permanecesse sempre no mesmo estado, e porque, no meu caso particular, prometia-me aperfeiçoar cada vez mais meus julgamentos, e não torná-los piores, eu teria pensado cometer uma grande falta contra o bem senso se, pelo fato de aprovar então alguma coisa, me obrigasse a tomá-la como boa também depois, quando ela tivesse deixado de sê-lo ou quando eu tivesse deixado de considerá-la como tal.”( DESCARTES, op. cit., p. 13)
8 “As questões metafísicas, em Kant, tratam precisamente do que não posso conhecer. No entanto, não posso evitar pensar acerca do que não posso conhecer, por que isso refere-se ao que mais me interessa: a existência de Deus; a liberdade, sem a qual a vida seria indigna para o homem, seria ‘bestial’; e a imortalidade da alma. Na terminologia kantiana essas são as questões práticas, e é a razão prática que me diz como pensar a respeito delas. Mesmo a religião existe para os homens enquanto seres racionais ‘apenas dentro dos limites da razão’.” (ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Rio de Janeiro: Reluma Dumará. p. 28)
9 Bobbio assim se refere à democracia: “as definições de democracia, com todos sabem, são muitas. Entre todas, prefiro aquela que apresenta a democracia como ‘poder em público’. Uso essa expressão sintética para indicar todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomar as suas decisões às claras e permitem que os governados ‘vejam’ como e onde as tomam. (BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia, a política e as lições dos clássicos. São Paulo: Campus, 2006. p. 75). Nesse sentido, um caminho para garantir condutas políticas éticas é a transparência e a visibilidades das ações públicas.
[1] VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Ética e Direito. São Paulo:Edições Loyola. 2002, p. 177.
[2] Dicionário de Ética e Filosofia Moral. [Org.] Monique CantoSperber. Editora Unisinos.
[3] BOBBIO, Norberto. Elogio da Serenidade e outros escritos morais. São Paulo: Editora UNESP, 2002.
[4] MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos: Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. 4. ed. Editora Universidade de Brasília, 1994.
[5] Dicionário de Ética e Filosofia Moral. [Org.] Monique CantoSperber. Editora Unisinos.
[6] Kant fundamenta os princípios gerais da ação humana na razão prática, enunciada nos seguintes termos: “Age de maneira tal que a máxima de tua ação sempre possa valer como princípio de uma lei universal.” O argumento filosófico delineado ficou conhecido como imperativo categórico e, segundo ele, a nossa ação deve ser universal, ou seja, válida para todos.
[7] “[…] E eu punha entre os excessos, particularmente, todas as promessas pelas quais se suprime algo da própria liberdade. Não que eu desaprovasse as leis que, para remediar a inconstância dos espíritos fracos, permitem, quando se tem um bom propósito ou mesmo, para a segurança do comércio, um propósito que é apenas indiferente, fazerem-se votos ou contratos que obrigam a perseverar neles; mas porque eu não via no mundo nada que permanecesse sempre no mesmo estado, e porque, no meu caso particular, prometia-me aperfeiçoar cada vez mais meus julgamentos, e não torná-los piores, eu teria pensado cometer uma grande falta contra o bem senso se, pelo fato de aprovar então alguma coisa, me obrigasse a tomá-la como boa também depois, quando ela tivesse deixado de sê-lo ou quando eu tivesse deixado de considerá-la como tal.”( DESCARTES, op. cit., p. 13)
[8] “As questões metafísicas, em Kant, tratam precisamente do que não posso conhecer. No entanto, não posso evitar pensar acerca do que não posso conhecer, por que isso refere-se ao que mais me interessa: a existência de Deus; a liberdade, sem a qual a vida seria indigna para o homem, seria ‘bestial’; e a imortalidade da alma. Na terminologia kantiana essas são as questões práticas, e é a razão prática que me diz como pensar a respeito delas. Mesmo a religião existe para os homens enquanto seres racionais ‘apenas dentro dos limites da razão’.” (ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Rio de Janeiro: Reluma Dumará. p. 28)
[9] Bobbio assim se refere à democracia: “as definições de democracia, com todos sabem, são muitas. Entre todas, prefiro aquela que apresenta a democracia como ‘poder em público’. Uso essa expressão sintética para indicar todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomar as suas decisões às claras e permitem que os governados ‘vejam’ como e onde as tomam. (BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia, a política e as lições dos clássicos. São Paulo: Campus, 2006. p. 75). Nesse sentido, um caminho para garantir condutas políticas éticas é a transparência e a visibilidades das ações públicas.
Originally published at https://revista.tcu.gov.br
Esta é uma republicação do artigo acima, para incentivar o debate sobre o tema, sem nenhum posicionamento político-partidário.